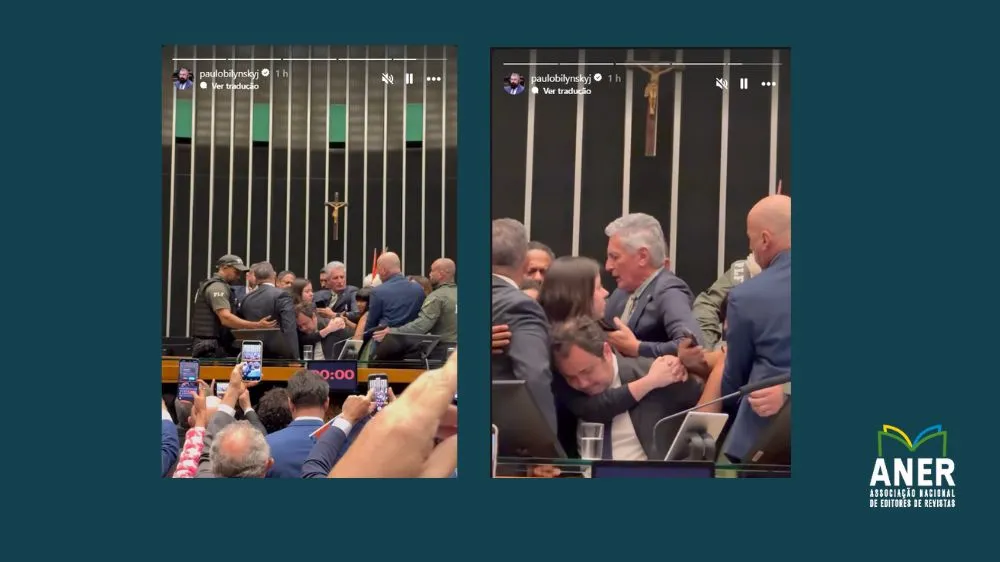Regulação das empresas de internet é — na prática — um beco sem saída. Por isso precisamos pensar nas medidas antitruste
EXAME – DEZEMBRO/2019
Francis Fukuyama
Em outubro de 2019, eclodiu um confronto entre uma das principais candidatas democratas à Presidência dos Estados Unidos, a senadora Elizabeth Warren, e o chefão do Facebook, Mark Zuckerberg. Warren havia pedido o desmembramento do Facebook, e Zuckerberg disse em um discurso interno que isso representava uma ameaça “existencial” à empresa.
O Facebook foi, então, criticado por publicar um anúncio da campanha de reeleição do presidente Donald Trump, que apresentava uma alegação evidentemente falsa, acusando de corrupção o ex-vice-presidente Joe Biden, outro importante candidato democrata. Warren provocou a empresa colocando ela mesma um anúncio deliberadamente falso.
Essa desavença reflete os graves problemas que a mídia social representa para a democracia americana — e para todas as democracias. A internet, em muitos aspectos, deslocou a mídia de outrora, como jornais e televisão, como a principal fonte e o local onde são discutidos os eventos públicos. Mas as mídias sociais têm um poder muito maior de amplificar certas vozes e ser utilizadas como armas por forças hostis à democracia. Isso levou a exigências para que o governo regulasse as plataformas da internet para preservar a própria retórica democrática.
Mas que formas de regulação são constitucionais e viáveis? A Primeira Emenda da Constituição americana contém proteções muito fortes à liberdade de expressão. Embora muitos conservadores tenham acusado o Facebook e o Google de “censurar” vozes à direita, a Primeira Emenda concerne apenas às restrições ao governo oficial. A lei e a jurisprudência protegem a competência de partes privadas, como as plataformas da internet, de modelar os próprios conteúdos. Além disso, a seção 230 da Lei de Decência das Comunicações, de 1996, isenta as de responsabilidade própria, algo que, de outra forma, as impediria de selecionar seus conteúdos.
O governo americano enfrenta fortes restrições quanto à sua capacidade de censurar o conteúdo da internet de maneira direta, como faz, por exemplo, a China. Há, porém, maneiras menos invasivas de regulamentar o discurso, como já foi feito em relação às mídias radiofônica e televisiva de antigamente: os governos moldavam o discurso público por meio de sua autoridade para licenciar canais de transmissão, proibir certas formas de expressão (como incitação ao terrorismo ou à pornografia) e criar emissoras públicas com mandato para fornecer informações confiáveis e politicamente equilibradas.
O mandato original da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) não era apenas regular as emissoras privadas mas também atingir um amplo “interesse público”. Isso evoluiu para a Doutrina da Justiça da FCC, que determinava que as emissoras de TV e rádio fizessem as coberturas com opiniões politicamente equilibradas.
A constitucionalidade dessa intromissão na fala privada foi contestada no caso Red Lion Broadcasting versus FCC, em 1969, mas a estação de rádio foi obrigada pela Suprema Corte a dar direito de resposta a um comentarista conservador. A decisão foi justificada pela escassez do espectro de transmissão e pelo controle oligopolista exercido pelas três principais redes de TV da época. A decisão do caso Red Lion não se transformou em jurisprudência, mas presidentes republicanos vetaram repetidamente as tentativas democratas de transformar a Doutrina da Justiça em estatuto, e a própria FCC a rescindiu em 1987 por meio de uma decisão administrativa.
A senadora Elizabeth Warren: Facebook e Google sob pressão de desmembramento | Bridget Bennett/The New York Times/Fotoarena
A ascensão e queda da Doutrina da Justiça mostra como seria difícil criar um equivalente na era da internet. Existem muitos paralelos entre aquela época e agora. Hoje, o Facebook, o Google e o Twitter hospedam a grande maioria dos discursos na internet e estão na mesma posição oligopolista que as três grandes redes de TV da década de 60.
No entanto, não dá para imaginar a FCC de hoje articulando um equivalente moderno da Doutrina da Justiça. A política americana é muito mais polarizada; seria impossível chegar a um acordo sobre o que constitui discurso inaceitável. Uma abordagem regulatória à moderação de conteúdo é, portanto, um beco sem saída, não em princípio, mas na prática.
É por isso que precisamos considerar o antitruste como uma alternativa à regulamentação. O direito das partes privadas de autorregular o conteúdo foi protegido com extremo zelo nos Estados Unidos; não reclamamos que o The New York Times se recuse a publicar artigos de Alex Jones, o radialista que propaga teorias da conspiração, porque o mercado de jornais é descentralizado e competitivo.
Uma decisão do Facebook ou do YouTube de não publicá-lo tem mais consequências por causa de seu controle monopolista sobre a internet. Dado o poder que uma empresa privada como o Facebook exerce, tomar essas decisões raramente será visto como algo legítimo.
Em contrapartida, estaríamos muito menos preocupados com as decisões de moderação de conteúdo do Facebook se ele fosse simplesmente uma das várias plataformas competitivas da internet com visões diferentes sobre o que constitui um discurso aceitável. Isso aponta para a necessidade de repensar muito bem os fundamentos da Lei Antitruste.
A estrutura sob a qual reguladores e juízes hoje analisam o antitruste foi estabelecida durante as décadas de 70 e 80 como um subproduto da ascensão da Escola de Economia dos Livres Mercados de Chicago. Conforme registrado no recente livro de Binyamin Appelbaum, The Economists’ Hour (“A hora dos economistas”, numa tradução livre), figuras como George Stigler, Aaron Director e Robert Bork lançaram uma crítica sustentada à aplicação zelosa da Lei Antitruste.
O principal argumento foi econômico: a lei estava sendo usada contra empresas que haviam crescido muito porque eram inovadoras e eficientes. Eles argumentaram que a única medida legítima de dano econômico provocado por grandes corporações era o menor bem-estar do consumidor, medido por preço ou qualidade. Acreditavam que a concorrência acabaria regulando até mesmo as maiores empresas. Por exemplo, a sorte da IBM mudou não por causa da ação antitruste do governo, e sim pela popularização do computador pessoal.
A crítica da Escola de Chicago apresentou outro argumento: os autores originais da Lei Antitruste de Sherman, de 1890, estavam interessados apenas no impacto econômico em grande escala, e não nos efeitos políticos do monopólio. Como o bem-estar do consumidor era o único padrão para a ação do governo, seria difícil defender sua aplicação a empresas como Google e Facebook, que distribuem seus principais produtos de graça.
Mas há uma grande reavaliação desse conjunto de leis à luz das mudanças provocadas pela tecnologia digital. Economistas e especialistas em direito começam a reconhecer que os consumidores são prejudicados por coisas como invasão de privacidade e renúncia à inovação, pois o Facebook e o Google vendem os dados dos usuários e compram startups que podem desafiá-los.
Os prejuízos políticos causados pela enorme abrangência também são questões críticas e devem ser considerados na aplicação de medidas antitruste. As mídias sociais se armaram para minar a democracia, acelerando deliberadamente o fluxo de informações ruins, teorias da conspiração e difamação. Somente as plataformas da internet têm a capacidade de filtrar e jogar esse lixo para fora do sistema.
Mas o governo não pode delegar a uma única empresa privada (amplamente controlada por um único indivíduo) a decisão sobre qual discurso político é aceitável. Nossa preocupação com esse problema seria muito menor se o Facebook fizesse parte de um ecossistema de plataformas mais descentralizado e competitivo.
As soluções serão bem difíceis de implantar: é da natureza das redes recompensar o alcance e não está claro como uma empresa como o Facebook poderia ser desmembrada. Mas precisamos reconhecer que, embora o discurso digital deva ser auditado pelas empresas privadas que o hospedam, esse poder não pode ser exercido com segurança se não estiver distribuído num mercado competitivo.
Francis Fukuyama é membro sênior da Universidade Stanford e codiretor de seu Programa sobre Democracia e Internet