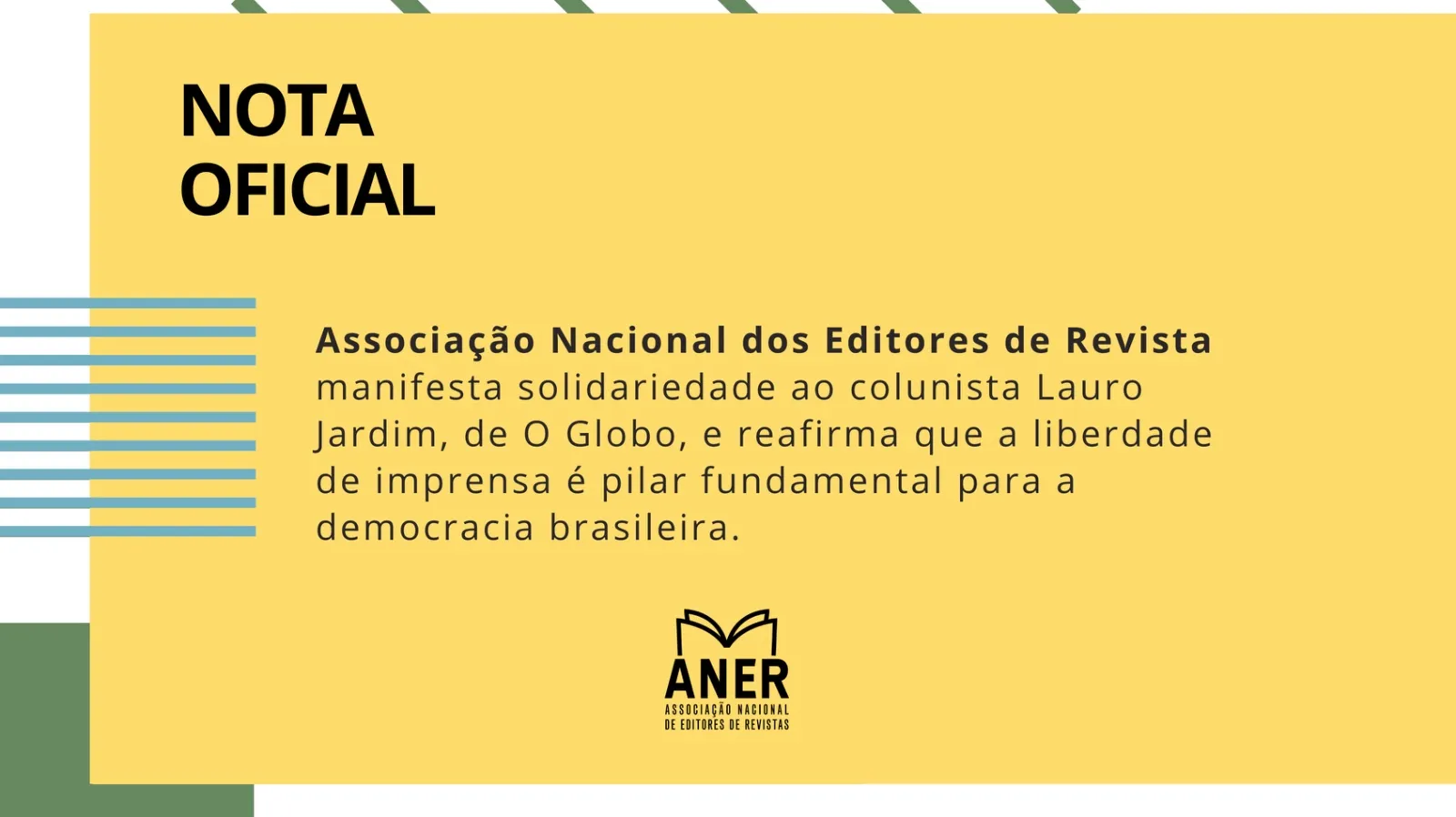A CONTRAOFENSIVA DA VERDADE ANTE A DESINFORMAÇÃO
ÉPOCA – 05/06/2020
Helio Gurovitz
Após anos de inação e tibieza, democracias centram fogo na responsabilidade das redes sociais para conter o poder corrosivo das fake news.
Antes da pandemia, antes de Donald Trump e Jair Bolsonaro serem presidentes, antes de o Reino Unido cogitar sair da União Europeia, antes da avalanche a abalar os alicerces da política planetária, antes de tudo houve Mandalai. Era julho de 2014 quando a violência irrompeu na cidade de Mianmar, imortalizada no Ocidente como lugar onde “o melhor é igual ao pior, não há Dez Mandamentos e um homem pode aguçar a sede”, versos de Rudyard Kipling que ganhavam sabor de exotismo quando cantados por Frank Sinatra ou recendiam a racismo quando recitados nos clubes fechados da elite britânica. Quanto aos eventos daquela noite de julho, nem o lorde Mountbatten que declama o poema na última temporada da série The crown nem o Boris Johnson que cometeu a gafe de arriscar algumas estrofes em visita oficial a Mianmar podem ser considerados culpados de nada. Foram centenas de birmaneses que invadiram a casa de chá de um muçulmano, acusado de ter estuprado uma funcionária budista. A mentira publicada num blog, compartilhada por ultranacionalistas que queriam se ver livres dos muçulmanos, se alastrou pelo Facebook. Não era a primeira vez. Não seria a última. Daquela, a polícia foi incapaz de conter a revolta popular, os saques, as gangues armadas com paus e facões que aterrorizaram a cidade por dias e deixaram um saldo de dois mortos e 20 feridos, num prenúncio do que aconteceria nos meses seguintes aos muçulmanos da minoria rohingya dos estados vizinhos.
Em 2018, depois de pelo menos 10 mil mortos e mais de 650 mil forçados ao exílio, os investigadores das Nações Unidas afirmaram que os eventos em Mianmar “carregam as marcas de genocídio”. Constataram o óbvio: as redes sociais “contribuíram substantivamente para o nível de ressentimento”. O genocídio em Mianmar demonstra que os riscos da desinformação não se restringem aos trolls da ultradireita, às invasões de hackers russos, à alquimia psicográfica dos marqueteiros da Cambridge Analytica, aos grupos de tiozões do WhatsApp ou ao inquérito que investiga, no Supremo Tribunal Federal (STF), a disseminação de “fake news” pelas milícias digitais bolsonaristas. Há algo de mais profundo e insidioso em ação. Uma força corrosiva ameaça a própria essência da democracia: a resolução pacífica dos conflitos humanos. De Mianmar ao estado indiano de Tâmil Nadu, de Hong Kong às Filipinas, da Catalunha à Catânia, da Turíngia alemã à Charlottesville americana, de Santiago a Minneapolis, das charnecas inglesas aos cercadinhos no Palácio da Alvorada, “a dança é a mesma aonde quer que você vá”, na descrição certeira de Ryan Broderick, jornalista que, ao longo da última década, cobriu a radicalização on-line em pelo menos 22 países dos seis continentes.
Os últimos passos dessa “dança” se assemelham ao cerco a aves rebeldes num galinheiro. Enquanto os governos têm tentado mudar as leis, as redes sociais se esgueiram e batem asas desesperadamente, tentando escapar. As iniciativas de autorregulação geram algazarra, mas têm sido inúteis para fazê-las alçar voo para longe das garras do Estado. O Twitter passou a incluir mais advertências em tuítes de políticos — e atingiu o próprio Trump. O Facebook instaurou um conselho externo para disciplinar seu próprio conteúdo. Nos Estados Unidos, a reação foi imediata: Trump baixou um decreto que torna as redes responsáveis pelo conteúdo que fazem circular. No Brasil, depois que a Polícia Federal desbaratou o esquema de desinformação bolsonarista, o Senado está prestes a votar um projeto de lei semelhante. Aqui como lá — e por todo o planeta —, dois fatos já se tornaram cristalinos. Primeiro, a primazia das redes sociais na disseminação de qualquer discurso e na mobilização política. Segundo, a ameaça que a balbúrdia digital tem representado aos caminhos institucionais de toda democracia que se preze.
“Em campanhas recentes mundo afora, o candidato com a maior e mais engajada comunidade no Facebook em geral venceu”, escreveu o historiador americano Siva Vaidhyanathan, da Universidade da Virgínia, em Antisocial media (Mídia antissocial), livro essencial para entender a música e os passos da “dança” das redes sociais — animada, nas palavras dele, por “boas intenções, espírito missionário e uma ideologia que vê o código de computador como solução universal para todos os problemas humanos”. Elas se tornaram o principal meio de comunicação e propaganda neste início de século, papel antes ocupado pelo rádio e pela televisão. “Se você quisesse construir uma máquina para distribuir propaganda a bilhões de pessoas, distraí-las das questões importantes, insuflar o ódio e o fanatismo, erodir a confiança social, solapar o jornalismo, instigar dúvidas sobre a ciência e promover vigilância em massa, tudo ao mesmo tempo, criaria algo muito parecido com o Facebook”, afirmou. “Quer chamemos o fenômeno de ‘fake news’, ‘propaganda’, ‘lixo’ ou ‘desinformação’, o resultado é o mesmo: o enfraquecimento constante e alarmante da confiança pública na especialização, na possibilidade de deliberação racional e de debate.”
A maior evidência é a profusão de curandeirices travestidas de ciência que tomaram conta da internet na pandemia. Mentiras sobre isolamento social, cloroquina e até detergente ganharam apoio político nos mais altos escalões. Um sentimento comum une autocratas, terroristas, trapaceiros, charlatães e milícias digitais: todos desprezam a verdade. Ninguém resumiu os riscos diante da humanidade tão bem quanto o humorista britânico Sacha Baron Cohen, falando a sério em novembro passado. “É chocante como é fácil transformar teorias da conspiração em violência”, disse. “Imaginem o que Joseph Goebbels, o ministro de Adolf Hitler responsável pela propaganda nazista, poderia ter feito com o Facebook.”
Dez anos atrás, nos tempos da Primavera Árabe, as redes sociais eram saudadas como força que traria liberdade e democracia a países sob o tacão de regimes autoritários. Hoje já ficou evidente não apenas o fracasso daquela promessa, mas o risco de que elas sirvam, ao contrário, de veículo para o retrocesso, para que o autoritarismo tome conta até mesmo de democracias consolidadas. “O mais duro para mim foi enxergar que a mesma ferramenta que nos uniu acabou servindo para nos separar”, disse numa conferência um desiludido Wael Ghonim, dono da página do Facebook que serviu de semente aos protestos no Egito em 2011. O plebiscito do Brexit e a eleição de Trump, em 2016, desmascararam a hipocrisia da pregação messiânica do Vale do Silício.
Em vez de promover um salto incomparável de produtividade na economia, a tecnologia digital serviu, sob o álibi da “disrupção”, de pretexto para os bancos centrais inflarem duas bolhas financeiras, cujo estouro lançou o planeta na maior depressão desde a crise de 1929 até a emergência do novo coronavírus. No lugar da aurora da liberdade e da apoteose da democracia, renasceu o nativismo chauvinista, sumiram os freios contra todo tipo de idiotice tacanha ou pseudociência — do negacionismo climático ao charlatanismo médico, da falsificação da História ao terraplanismo epidemiológico. Instaurou-se no meio digital uma espécie de vale-tudo da informação. A expressão “fake news”, usada pelo jornalista Craig Silverman numa reportagem para descrever o que acontecia na campanha de 2016 nos Estados Unidos, depois adotada por Trump e seus êmulos para atacar a imprensa profissional, se tornou um rótulo conveniente para encerrar qualquer debate.
Nas eleições deste ano no Brasil e nos Estados Unidos, a desinformação traz riscos evidentes. Para os americanos, os principais desafios, na análise de Paul Barrett, da Universidade de Nova York, são: vídeos capazes de representar candidatos dizendo ou fazendo o que jamais disseram ou fizeram, conhecidos como “deepfake” (a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, já foi vítima de uma fraude do tipo); uso do Instagram e do WhatsApp, mais que do Facebook, para disseminar conteúdos falsos e provocar radicalização; interferência digital não apenas da Rússia, mas de Irã, China e, principalmente, empresas americanas contratadas para gerar desinformação; novas tentativas de mobilização para protestos falsos e de evitar o comparecimento às urnas de minorias (tática conhecida como “supressão de voto”).
No Brasil, a preocupação se multiplica pelos 5.570 municípios, cada um com panorama político próprio, todos sujeitos a campanhas de manipulação. “A Justiça Eleitoral vê as eleições municipais como de execução mais complexa, porque preponderam circunstâncias locais”, dizia meses atrás o juiz Ricardo Fioreze, coordenador do programa de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Isso nos permite prever que será mais difícil enfrentar a desinformação.” O TSE já cassou o mandato de senadora da juíza Selma Arruda (Podemos-MT), cuja campanha foi condenada, entre outros motivos, por não declarar gastos com publicidade digital. Acusação idêntica pesa sobre a campanha de Bolsonaro, em processo que deverá ganhar novo fôlego nas próximas semanas a partir do inquérito das fake news.
A maior fonte de inquietação por aqui, como em 2018, é o WhatsApp. Basta lembrar o caso recente da jornalista Patrícia Campos Mello. Responsável por reportagens sobre a rede de desinformação bolsonarista pelo WhatsApp nas últimas eleições, ela própria foi vítima de uma campanha difamatória. Inicialmente disseminados também no WhatsApp, memes agressivos e calúnias ganharam repercussão no Twitter, sem que a rede social tirasse do ar as contas responsáveis por difamá-la e ofendê-la. Oficialmente, a resposta do Twitter foi de dever cumprido. “Foram tomadas medidas sobre tuítes e contas que violaram as regras”, afirmou em comunicado. “O Twitter condena comportamentos que intimidem ou tentem silenciar vozes, e o trabalho para evitar que isso ocorra está em constante aprimoramento.” É verdade que a empresa não está parada. Tanto que incluiu, nos tuítes recentes sobre os protestos em Minneapolis contra o racismo da polícia, uma advertência afirmando que Trump violou regras sobre “enaltecimento à violência”.
Mesmo assim, as medidas têm sido tímidas e hesitantes. O WhatsApp informa que, depois das denúncias em 2018, limitou o tamanho de grupos, as listas de transmissão e o reencaminhamento das mensagens. A despeito da tecnologia de comunicação segura para preservar a privacidade, passou a usar dados de localização e o número de telefone dos usuários para tentar coibir abusos (no Brasil, com mais de 120 milhões de aplicativos instalados, o reenvio caiu 30% e, na campanha de 2018, 400 mil contas foram suspensas). A eficácia dessas medidas foi, contudo, posta em xeque por um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com grupos no Brasil, na Índia e na Indonésia durante o período eleitoral (aqui, também durante a greve dos caminhoneiros). Nas mensagens com imagens, eles constataram que a desinformação alcança mais grupos e é distribuída mais rápido — em 60% dos casos, menos de duas horas depois da primeira aparição. Mensagens falsas de texto também circulam por mais tempo, metade delas mais de dez dias. É, portanto, crítico o tempo de reação, tanto das autoridades quanto das redes sociais. “No calor da eleição, precisamos intensificar a checagem para monitorar o que circula da forma mais ágil possível”, disse Fioreze. Ele não descartou a possibilidade de que, mais perto da eleição, o próprio WhatsApp impusesse mais restrições ao repasse de mensagens. No final do ano passado, o pesquisador brasileiro Pablo Ortellado, coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo (USP), dizia que havia pouquíssimo tempo para agir a tempo das eleições. Não há mais. “Somos o segundo maior mercado depois da Índia em uso do WhatsApp. Se alguém pode regular o uso de modo sensato, é o Brasil.” O Facebook, dono do WhatsApp, vê na comunicação privada a vocação da plataforma e defende a tecnologia usada para manter as mensagens secretas. Isso não impede, porém, a implantação de sistemas de monitoramento capazes de detectar violações nas imagens ou vídeos compartilhados, armazenados em servidores para facilitar o carregamento. Também não impede o uso de técnicas de inteligência artificial para disparar alarmes sobre usos suspeitos.
Seria injusto deixar de reconhecer os esforços do Facebook para tentar controlar a desinformação em suas redes. É fato que algo mudou depois das declarações desastradas do criador da rede social, Mark Zuckerberg, quando vieram à tona as primeiras evidências da interferência de russos na campanha americana em 2016. Além das mudanças implementadas no WhatsApp, a empresa fez parcerias com agências de checagem de fatos para rotular conteúdos falsos, passou a banir o que pudesse gerar violência ou representar risco à saúde pública, estabeleceu forças-tarefas para combater a desinformação em tempo real durante períodos eleitorais, adotou normas de transparência nos anúncios políticos, instaurou um conselho externo para supervisão do conteúdo e afirma contar hoje com 35 mil funcionários destinados a manter a “integridade da plataforma” (15 mil deles, moderadores com o poder de tirar do ar conteúdos mediante um clique).
Um jornalista que visita os escritórios do Facebook num prédio envidraçado da região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, parece embarcar numa espaçonave rumo a outro planeta. Recebe um crachá de cor diferente dos demais (vermelho) e, entre a comida gratuita, os estofados coloridos e o ambiente descontraído das empresas digitais, encontra funcionários articulados e engajados, capazes de debater a fundo a tensão entre a liberdade de expressão e a qualidade da informação, até mesmo de defender a insistência ridícula de Zuckerberg em garantir aos políticos o direito de mentir em seus anúncios, repetindo o mantra “não podemos ser árbitros da verdade”. Ouve histórias épicas sobre como o Facebook desbaratou redes subterrâneas de desinformação, ocultas atrás de perfis anônimos (uma delas, ligada ao Movimento Brasil Livre). Descobre que a televisão e a imprensa profissional continuam imbatíveis em influência (o pico de posts sobre Bolsonaro na campanha eleitoral foi durante a entrevista ao Jornal Nacional). Espanta-se que o Facebook tenha contratado um professor de ciência política para lidar com o uso de suas plataformas no Brasil e na América Latina (só nas últimas eleições argentinas, mais de 80 funcionários se envolveram no combate à informação falsa). Admira-se com a constatação de que, desde a vitória de Trump, houve eleições nas duas maiores democracias do planeta (Índia e União Europeia) sem registro de abusos graves. Confirma que há uma disposição genuína em colaborar com autoridades eleitorais locais (o próprio TSE corrobora tal fato). E, ainda assim, não sai convencido de que as mudanças tenham lá muito valor.
“Não há dúvida de que estão promovendo mudanças, mas é o mínimo suficiente para afastar a ameaça de regulação”, afirmou o acadêmico Dipayan Ghosh, que pesquisa a interação entre tecnologia e política no Shorenstein Center da Universidade Harvard. “Não acho que a mentalidade deles tenha mudado. Não tenho evidência direta disso e, qualquer que seja a abordagem adotada, no final a bola vai parar em Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg (diretora de operações do Facebook e braço direito de Zuckerberg).” Ghosh sabe bem do que fala. Ex-conselheiro da Casa Branca para assuntos digitais no governo Barack Obama, ele trabalhou no Facebook até pouco depois da campanha de 2016. Chocado com a manipulação, decidiu trocá-lo pela academia. Tornou-se, nos últimos três anos, um dos mais respeitados dissidentes do Vale do Silício, coautor de estudos que esmiúçam o desafio das redes sociais no universo político, intitulados Digital deceit (Logro digital).
Ficam a cada dia mais evidentes os riscos da apatia e da indiferença diante da desinformação — atitudes que parecem definir cada nova entrevista ou depoimento de Zuckerberg. Em contrapartida, aquilo que não passava de um movimento incipiente de refuseniks digitais como Ghosh passou a contar com adesões de maior relevo no mundo dos negócios, maior consistência acadêmica e maior apoio político. Dez dias antes da eleição de 2016, diante do que passava por sua frente no Facebook, o investidor Roger McNamee, um dos entusiastas da rede social desde o início, escreveu num e-mail a Zuckerberg: “Estou decepcionado. Estou envergonhado. Estou sem jeito. O Facebook fez recentemente coisas horríveis, e não posso mais desculpar seu comportamento. Está ajudando pessoas a fazer o mal. Tem o poder de parar esse mal. O que falta é incentivo”. Com o conhecimento de causa de quem foi um insider, McNamee se tornou outra voz eloquente nas críticas às gigantes digitais, elaboradas na forma de memórias em Zucked, publicado em 2019. Seu livro nem foi a maior bomba disparada por uma celebridade do Vale do Silício contra o Facebook. Em maio, Chris Hughes, cofundador da empresa e ex-colega de quarto de Zuckerberg na faculdade, assinou na revista do jornal The New York Times um artigo sem meias-palavras. “A influência de Mark é impressionante, muito além de qualquer um no setor privado ou no governo”, escreveu. “Ele controla as três plataformas de comunicação — Facebook, Instagram e WhatsApp — que bilhões usam todo dia. Estou decepcionado comigo mesmo e com a equipe pioneira do Facebook.” Hughes concluía com um alerta: “O governo deve disciplinar Mark”.
A ideia de quebrar empresas como Google, Amazon ou Facebook entrou na campanha eleitoral americana — e, naturalmente, gerou reação. Em outubro, Zuckerberg compareceu a um jantar reservado com Trump na Casa Branca, acompanhado do investidor Peter Thiel, integrante do conselho de administração do Facebook, defensor dos monopólios digitais e, exceção no Vale do Silício, trumpista de primeira hora. Além de ter mantido dois encontros com o presidente, Zuck abriu a agenda a personalidades da direita americana, fez acenos ao público conservador e tentou dissociar sua imagem dos democratas, majoritários no Vale e em toda a Califórnia. “Acredito que deva haver regulação de conteúdo nocivo, a questão é o tipo de modelo a adotar”, afirmou no início do ano. Citou dois modelos como referência: o dos jornais, responsáveis por tudo que publicam, e o das empresas de telecomunicações, que não respondem pelo que alguém diz nas linhas telefônicas. “Deveríamos estar num lugar intermediário”, afirmou Zuckerberg. Apesar da operação de relações públicas, foi atingido em cheio pelo decreto de Trump, que põe as redes no mesmo papel dos jornais. O estopim foi o Twitter, mas o alvo era o Facebook. Principal beneficiário do statu quo, que lhe permite mentir quanto quiser sem sanção, Trump está incomodado com os movimentos das redes para regular o discurso. Baixar um decreto que vai contra seu próprio interesse é uma forma de forçar Zuckerberg a voltar a repetir que “o Facebook não pode ser árbitro da verdade” e a recuar em qualquer movimento para tolhê-lo. Quando irromperam os protestos contra o assassinato de George Floyd, Zuck falou ao telefone com Trump e, ao contrário do Twitter, decidiu não intervir nos posts dele. A decisão chocou lideranças do movimento pelos direitos civis e até funcionários do Facebook.
Na academia, o debate sobre a regulação reuniu polos antes antagônicos. A divergência está mais na natureza do que na necessidade de mais rigor. A solução radical seria quebrar as gigantes digitais em empresas menores, como os americanos fizeram com a Standard Oil em 2011 ou com a AT&T em 1982. O Facebook naturalmente é contra. “Cindir as empresas não resolverá temas como privacidade, interferência em eleições e conteúdo nocivo”, afirmou a empresa. “Separar diferentes serviços reduziria nossa habilidade e escala para lidar com desafios que enfrentamos.” Partidários da cisão, como o jurista Tim Wu, da Universidade Columbia, contestam o entendimento jurídico formulado por Richard Posner, da Universidade de Chicago, adotado em tribunais americanos desde os anos 1970. A essência da visão de Chicago é preservar a integridade de corporações monopolistas, desde que não haja dano comprovado ao consumidor, em particular aumento de preços (serviços digitais costumam ser grátis). Como Wu explica em The curse of bigness (A maldição do tamanho), a falta de competição gera outro dano: inibe inovações que trariam benefícios ainda desconhecidos. Voltar a separar Instagram e WhatsApp do Facebook permitiria aos usuários escolher entre serviços rivais.
Do outro lado, há quem, como Ghosh, discorde de Wu. No entender dele, as redes sociais podem representar aquilo que os economistas classificam como “monopólio natural”. Assim como não faz sentido construir outra rede de distribuição de água ou de eletricidade numa cidade, não faria sentido econômico ter dois fornecedores do serviço de rede social. Para evitar a concentração de poder, Ghosh afirmou que o recomendado não é necessariamente quebrar as empresas, mas antes submetê-las a normas rígidas de regulação e fiscalização.
É esse o espírito da nova lei que entrou em vigor no início do ano na Califórnia, baseada num princípio já adotado no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia (RGPD) e no Marco Civil da Internet do Brasil: a garantia da privacidade e transparência na coleta e no acesso a dados pessoais. Impor restrições às corporações digitais em defesa dos cidadãos é hoje uma exigência até mesmo de liberais da Universidade de Chicago, como o economista Luigi Zingales. A extensão das restrições, contudo, ainda desperta controvérsia. Ghosh defende regular três áreas: 1) Transparência — acesso em tempo real e armazenamento de informações sobre anúncios políticos (como no rádio e televisão); identificação de robôs e contas ciborgues (medida apelidada “Lei Blade Runner”); atribuição de responsabilidade por decisões tomadas por sistemas automáticos de inteligência artificial; 2) Privacidade — controle de acesso e remoção dos próprios dados nas mãos dos consumidores; transparência sobre o uso de tais dados; estabelecimento de uma autoridade reguladora com recursos para criar regras e fiscalizar; 3) Concorrência — supervisão robusta de fusões e aquisições das empresas digitais; reforma na legislação antitruste para garantir a regulação ágil para inovações digitais; garantia de portabilidade e interoperabilidade de dados entre serviços. O nó da questão, disse Ghosh, é que não há diferença entre as ferramentas digitais usadas pelas campanhas de desinformação on-line, por campanhas eleitorais legítimas ou por campanhas de publicidade comuns. Todas usam tecnologias de precisão idênticas, incapazes de distinguir o comércio da política. “O simples fato de que as campanhas de desinformação e a publicidade legítima são, para todos os efeitos, indistinguíveis está no centro do desafio”, diz o estudo Digital deceit. Em ambas, as plataformas digitais ajudam anunciantes a atingir e a influenciar a audiência. O sucesso de qualquer campanha, em particular de desinformação, amplia o engajamento dos usuários e traz mais receitas para a plataforma. “É este o negócio. Os incentivos econômicos das plataformas e os objetivos políticos dos operadores da desinformação estão alinhados. Precisamos tratar desse elo político-econômico se quisermos progredir.”
Marqueteiros políticos tentam há décadas adequar suas mensagens ao perfil do eleitor. Nos Estados Unidos, a campanha de John Kennedy em 1960 já segmentava o público americano em 480 grupos distintos. Desde os anos 1990, democratas e republicanos mantêm bases de dados com informações sobre centenas de milhões de cidadãos. Na reeleição de George W. Bush, em 2004, Karl Rove se gabava de poder dizer o que mais preocupava o morador de cada rua do país. Nos anos seguintes, a segmentação de anúncios se aperfeiçoou para além da geografia. A microssegmentação em centenas ou milhares de características — muito além de faixa etária, nível educacional, origem étnica ou orientação sexual — foi usada para eleger tanto Obama como Trump. Só gerou escândalo com Trump porque parte das informações fora furtada pela Cambridge Analytica de uma pesquisa acadêmica com dados cedidos pelo Facebook. Mas os questionários da Cambridge Analytica, que classificavam os eleitores segundo uma técnica chamada “psicografia”, nem de longe foram o mais importante para Trump atrair os votos de quem precisava nos estados decisivos.
Foi essa a conclusão do mais extenso, minucioso e relevante trabalho acadêmico sobre o impacto do meio digital na política, Network propaganda, dos pesquisadores Yochai Benkler, Robert Faris e Hal Roberts. Eles investigaram em detalhes as principais suspeitas aventadas para explicar a vitória de Trump em 2016: mentiras disseminadas por sites pseudojornalísticos e trolls da ultradireita, ações promovidas por russos para manipular o eleitorado e diversas técnicas para interferir no sentimento do público, entre elas os perfis psicográficos da Cambridge Analytica. Concluíram que a tecnologia em si teve um efeito bem mais modesto do que o noticiário posterior deu a entender. Confirmaram os efeitos de um só método de propaganda: os anúncios microssegmentados do Facebook, desenvolvidos para uso em campanhas comerciais, depois usados para afastar das urnas o eleitorado simpático aos democratas e atrair aquele cujo voto foi essencial à vitória de Trump. “A maior preocupação de longo prazo é a capacidade do Facebook em promover campanhas altamente segmentadas, usando ciência do comportamento e experimentação em larga escala”, escreveram.
Outra preocupação, em especial no Brasil, são os canais usados para propaganda política no YouTube, normalmente fora do controle das normas da Justiça Eleitoral. O grupo de pesquisa de Ortellado na USP fez um mapa do tráfego político no YouTube e encontrou um quadro de polarização similar ao constatado nos Estados Unidos. De todas as plataformas, o YouTube é a mais opaca. A seleção automática de vídeos correlatos favorece conteúdos que geram mais “engajamento” e contribui para a radicalização. A espiral do extremismo é corroborada por um estudo da UFMG apresentado em janeiro numa conferência em Barcelona, na Espanha. O Twitter, rede de alcance menor, tem procurado eliminar contas de robôs e imposto restrições cada vez mais severas. Com base no princípio da precaução, baniu toda propaganda de cunho político e, quando não tira do ar, passou a rotular com mais frequência as mensagens nocivas. O Facebook ainda insiste em garantir a políticos o direito à publicidade mentirosa, mas adotou regras de transparência similares às que vigoram no rádio e na televisão. Proibiu o uso dos anúncios ocultos dirigidos a um só usuário, os “dark ads”, adotados em massa na campanha de Trump em 2016. Cada vez que se defende, Zuckerberg repete: “Não somos árbitros da verdade”.
A posição altaneira diante de todos os tipos de discurso — ele já defendeu o direito à expressão de pontos de vista ilegais em vários países — é na prática uma zona de conforto. É verdade que não tem muito cabimento comparar uma rede social a um veículo da imprensa, responsável por cada vírgula do que publica ou leva ao ar. Mas faz menos sentido ainda acreditar que elas sejam apenas dutos neutros por onde qualquer conteúdo deve poder escoar. A pressão para a regulação mais dura demonstra que a sociedade não está disposta a continuar a eximi-las da responsabilidade por qualquer coisa que os usuários publiquem. Facebook, Google e companhia ganham dinheiro com publicidade, como qualquer empresa de comunicação. Seu negócio provocou uma crise sem paralelo no financiamento de uma atividade essencial para garantir acesso aos fatos numa democracia: o jornalismo profissional. Nada mais justo e razoável que arquem com a responsabilidade correspondente. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, as empresas digitais ainda se escondem atrás da legislação benéfica, que as isenta de toda obrigação pelo que fazem circular. Só são forçadas a retirar conteúdos do ar mediante ordem da Justiça (e não assim que notificadas por quem se julga prejudicado). É o que mandam a seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações americana e o artigo 19 do Marco Civil da Internet brasileiro — e também o que diz a legislação proposta pelo TSE para as eleições deste ano.
Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) adiou um julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19. O projeto de lei 2.630, que tramita no Senado, prevê tornar as redes responsáveis pelo conteúdo que publicam. Apesar das falhas evidentes na redação, é um projeto que precisa ser debatido. Google e Facebook argumentam que deixá-los à mercê de qualquer queixa os obrigará a adotar por cautela uma postura mais conservadora, retirando conteúdos do ar preventivamente e prejudicando o direito de seus usuários à liberdade de expressão. Trata-se de um argumento falacioso. O que se procura limitar não é o direito de alguém expressar seu ponto de vista, mas sim o direito a usar uma plataforma que permite amplificá-lo a ponto de atingir quase todo o planeta. Liberdade de expressão não equivale ao direito a um megafone de alcance global, que transmite mentiras com mais potência que a verdade. Nem nos Estados Unidos a Primeira Emenda protege qualquer discurso, muito menos num ambiente privado, regido por normas arbitrárias com que o usuário concorda em geral sem ler. Da obscenidade ao assédio sexual, do racismo à incitação à violência, a lei de vários países impõe limites ao que pode ser dito. “Todo o resto mantido igual, o discurso deve ser protegido”, escreveu o jornalista Andrew Marantz em Antisocial, um relato de sua experiência cobrindo os movimentos radicais da internet. “Mas que dizer do discurso feito sob medida para uma mulher levar um adolescente ao suicídio ou para conduzir uma democracia ao totalitarismo?” São dilemas sem dúvida espinhosos, mas, como disse Marantz, isso não significa que podemos nos dar ao luxo de evitá-los.