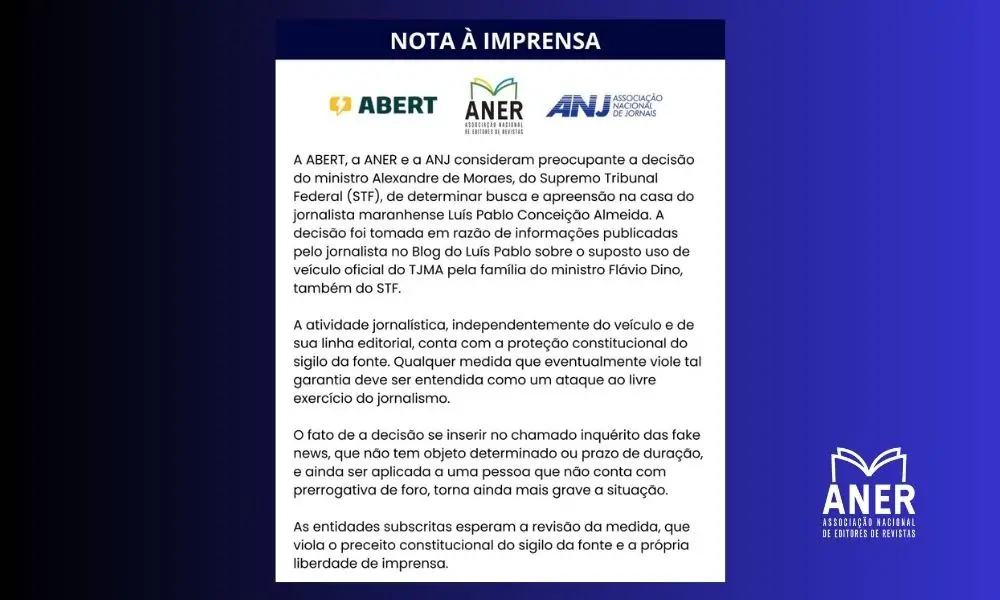A COBERTURA DE MASSACRES NOS EUA E AS QUESTÕES DO JORNALISMO ATUAL
ÉPOCA – 15/08/2019
PEDRO BURGOS
É possível atuar em prol de mudanças sem ser confundido com um ativista? Isso importa? E qual a melhor estratégia para provocar mudança, dentro do que entendemos como jornalismo?
Há 20 anos, dois atiradores mataram 12 alunos e um professor, e deixaram 21 outros feridos em uma escola em Columbine, nos Estados Unidos. O evento gerou comoção mundial, um documentário premiado, e uma discussão interminável sobre como lidar com jovens perturbados com acesso a armas de alto poder de destruição.
Corta para 2019. Em apenas um fim de semana foram mais dois massacres — em El Paso e em Dayton —, levando para o total de 62 vítimas fatais em tragédias do tipo este ano nos EUA.
Após os tiroteios recentes, John Temple, editor de um pequeno jornal em Columbine que noticiou aquele massacre em primeira-mão, escreveu um artigo para a “Atlantic ” que encontrou coro na comunidade jornalística americana, cansada de escrever a mesma reportagem trocando nomes e lugares. O título: “Eu vi os limites do jornalismo”. No texto: “Jornalistas sentem a necessidade de serem testemunhas. Mas do mesmo horror, de novo e de novo? Eu não sei dizer se acredito que possamos aprender com coisas terríveis,” resigna-se Temple, hoje professor de Jornalismo na UC Berkeley.
Depois de ganhar um Pulitzer com a cobertura, ele diz que hoje desliga a TV quando sabe de uma nova tragédia. Há, a essa altura, um ritual bem desenhado nas redações. Primeiro são ouvidas as pessoas que escaparam por um triz dos tiros, que vão falar que “nasceram de novo”; depois, perfis das vítimas, entrevistas com familiares em choque; em paralelo, informações sobre o assassino, com psiquiatras pressionados por repórteres a arriscar um diagnóstico a partir de postagens em redes sociais; e por fim, o jogo de culpa, cada vez mais polarizado: pede-se mais restrições a vendas de armas de um lado, grita-se contra a toxicidade de videogames e fóruns de internet de outro.
Este ciclo parece durar cada vez menos tempo. E trazer, na análise de Temple, cada vez menos resultado. Nos meses que se seguiram a Columbine, houve alguma mudança: escolas da região aumentaram o investimento em aconselhamento psicológico e estratégias de crise e as polícias desenvolveram novos protocolos para lidar com incidentes do tipo. A regulação sobre armas avançou um pouco: as venda de armas em feiras de colecionadores sem checagem de antecedentes foi proibida no estado.
Claramente o conjunto de medidas não foi suficiente para prevenir todos os massacres subsequentes. Mas este pouco avanço foi consequência em parte, em sua avaliação, de dezenas de reportagens apontando para o problema e investigando possíveis soluções. A sociedade parecia focada na questão por meses em 1999 e 2000. Em uma ótima entrevista para o podcast da ” Columbia Journalism Review “, após a repercussão do artigo, Temple reconhece essas mudanças, mas mantém que simplesmente reportar a realidade, como sempre fizemos, neste ritual ora macabro, não é suficiente para o que a sociedade demanda, ou para gerar mudanças.
Uma hipótese é que a estratégia de imagens chocantes, antes vista com desdém, ou “mau gosto sensacionalista”, não deva ser de todo descartada. O jornalista lembrou de como uma mãe só descobriu que o filho havia sido baleado ao ver uma foto dele no chão, sem vida, no jornal impresso — a polícia ainda não tinha soltado informações. No primeiro momento, a mãe ficou indignada com a insensibilidade dos jornalistas. Mas Temple conta que depois ela mudou a postura. Ligou para o editor para dizer que de certa forma ficava feliz que o filho pudesse ter sido símbolo, que a imagem chocante poderia gerar alguma mudança.
Hoje, estudantes da escola de Columbine que foi palco da tragédia original pensam parecido. De acordo com reportagem do ” Huffington Post “, muitos estão colando um adesivo no RG ou carteira de motorista que diz “Caso eu morra vítima de violência com arma de fogo, por favor publique a foto da minha morte. #MyLastShot. Assinado, ___“.
Hashtag de Instagram de lado, há alguma ciência nessa estratégia. Exemplo: a publicação da foto de Aylan Kurdi, menino de três anos cujo corpo encontrado em 2015 na praia simbolizou o drama dos imigrantes sírios, mobilizou a população. Estudos mostraram que doações para organizações de auxílio a refugiados, como a Cruz Vermelha, aumentaram dezenas de vezes nas semanas subsequentes à foto. Gráficos e análises apuradas não haviam conseguido resultado semelhante antes.
Será que a estratégia de choque é o caminho mais eficaz para o jornalismo provocar mudanças positivas? Décadas de Cidade Alerta e tablóides sanguinolentos desafiam essa noção, é claro, mas há algo sobre a capacidade de mobilização dessas imagens ou relatos que precisamos prestar atenção. Em sua entrevista, Temple levanta algumas questões caras à profissão. Qual o papel do jornalismo em ajudar a provocar mudanças em políticas públicas? Antes: seria responsabilidade da classe tentar isso, ou só devemos ser testemunhas? Mais: é possível atuar em prol de mudanças sem ser confundido com um ativista? Isso importa? E qual a melhor estratégia para provocar mudança, dentro do que entendemos como jornalismo?
Em um momento onde nós jornalistas nos sentimos inertes frente aos enormes desafios da sociedade — e quando todos lançam dúvidas sobre a importância do nosso trabalho —, é preciso pensar melhor sobre essas perguntas, e buscar respostas.
Prometi que não vou estourar o tamanho da coluna sempre, só 83% das vezes. A missão aqui é discutir não apenas as grandes questões do jornalismo nos dias de hoje, mas o ambiente informacional como um todo. Fake News, grandes plataformas, campanhas políticas com bots… Tudo que for meio e mensagem e mexer com a nossa vida pode ser pauta por aqui. Críticas e sugestões são bem-vindas e serão respondidas via Twitter, no @burgos.